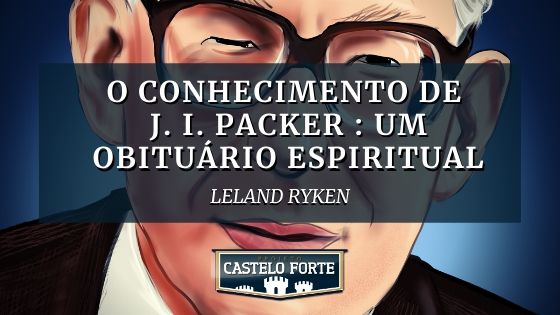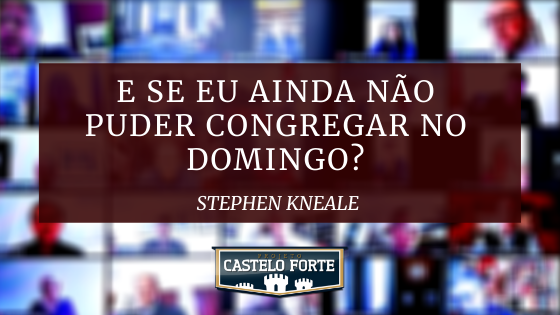Eu cresci com uma mentalidade de vítima.
Ninguém chamava assim na época. Mas, quando olho para trás, é o que era.
Veja, eu era um refugiado da Europa Oriental comunista – da Hungria. Cresci entre outros refugiados, entre vítimas: vítimas de um regime totalitário opressor; vítimas que viram entes queridos presos e mortos; vítimas para as quais fugir de sua terra natal era frequentemente a única opção que restava.
Agora, nem por um momento quero minimizar o sofrimento de meus companheiros refugiados húngaros. A dor deles era real.
Mas isso significava que cresci em uma subcultura que estava totalmente ciente de seu sofrimento. Ser uma vítima era fundamental para nossa identidade húngara – como goulash e páprica. E sim, a Hungria teve seu quinhão de tragédia nacional: a partir do Tratado de Paz de Trianon, de 1920, no final da Primeira Guerra Mundial, a Hungria perder 60% de seu território; a depois ela foi ocupada, primeiro pelos nazistas e depois pelos soviéticos (por mais de 40 anos).
Enquanto eu crescia, eu era constantemente lembrado de quanto nós, húngaros, havíamos sofrido nas mãos de outros.
Nós fomos as vítimas. E as nações ao redor, os soviéticos, romenos, sérvios, os Tchecos, eles foram os opressores.
Éramos inocentes. Eles eram culpados.
E assim, desenvolvi uma mentalidade de vítima.
Desnecessário dizer que essa mentalidade de vítima não me encorajou exatamente a construir amizades com essas nacionalidades. (Na verdade, enquanto meus colegas de escola primária jogavam handebol e Atari, eu sonhava em lançar uma revolução contra os ocupantes soviéticos – tendo Rambo e Reagan como minha inspiração).
A mentalidade de vítima distorceu grande e verdadeiramente minha visão da realidade. Continue lendo